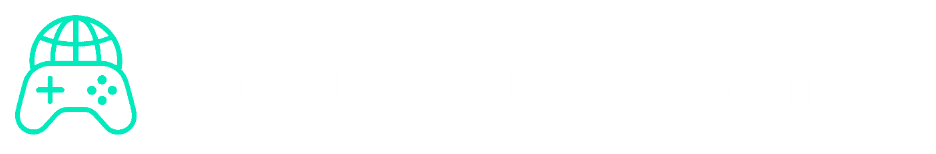Desde o começo da série, Mafia sempre avançou pelas décadas como quem marca território: o primeiro jogo nos jogou nos anos 1930, a sequência pegou os anos 40 e 50, Mafia III levou o enredo para o fim dos anos 60. Tudo indicava que o próximo capítulo seguiria para os 70 ou 80 — e eu estava pronto. Mas Hangar 13 resolveu apontar a bússola para trás: Mafia: The Old Country não corre para o fim do século XX, ele vai direto para a raiz do problema, para a época em que a Máfia estava nascendo. Se a premissa soa restritiva, o resultado não é: o jogo é, na superfície, um third‑person action-adventure relativamente seguro e tradicional, mas com uma atmosfera tão densa e trabalhada que frequentemente parece uma recriação cinematográfica de Sicília — só que você pode atirar no figurante.
A primeira coisa que você sente é o alinhamento com os dois primeiros jogos: o mapa existe para contar história, não para te prender num festival de ícones. Depois da experiência mais livre (e divisiva) de Mafia III, The Old Country volta a uma estrutura linear e guiada; o mundo aberto é um pano de fundo vívido, sim, mas sem torres a escalar nem coletáveis que te obrigam a roteiros artificiais. Isso é bom. Por que? Porque a série sempre foi mais eficiente quando coloca o jogador diretamente dentro de uma narrativa bem construída, sem inflar conteúdo só por inflar. Se você, como eu, vive por mapa, narrativa e sensação de lugar — e considera o sotaque e o idioma parte da imersão — talvez você queira jogar com a fala em siciliano e legendas no seu idioma. Prefere sair batendo em civis sem contexto? Então talvez este não seja seu projeto favorito.
Família e formação
A história começa em 1904 e segue Enzo Favara, um rapaz que escapa do trabalho escravo em minas de enxofre — cenário que, por si só, já entrega um subtexto social potente — e acaba servindo a família Torrisi, inimiga dos Spadaro. O roteiro caminha por beats clássicos do gênero: mentor benevolente, amigo leal mas impulsivo, o Don imponente com um consigliere cínico, o rival traidor e aquele romance proibido. É familiar? Sim. É previsível? Em muitos momentos, também. E ainda assim funciona devido ao tom, à direção e, principalmente, às vozes.
A interpretação de Johnny Santiago como Don Torrisi merece destaque técnico: entrega uma voz rouca, com intensidade contida que funciona como ameaça mais eficiente do que gritar ordens. Ele age como alguém ao qual homens que matam para viver obedecem — e isso é uma escolha de direção de performance que raramente encontra espaço em jogos com ancoragem histórica. A escrita, embora calcada em arquétipos, mantém diálogos bons o suficiente para justificar 13 horas de imersão. Se você liga para atuação e caracterização, Don Torrisi é o tipo de figura que fica martelando a memória depois que o jogo fecha.
“Completamente reconstruído do zero, Mafia: Definitive Edition apresenta atuações excelentes de seu novo elenco, um modelo de direção fantástico e uma cidade autêntica que respira atmosfera dos anos 1930, apesar de sofrer com um combate em terceira pessoa relativamente genérico.” — Luke Reilly
Combate, furtividade e lâminas
No campo do gameplay, não espere revoluções: o combate em terceira pessoa repete fórmulas consolidadas do gênero. A mira com soft-lock padrão e o ritmo das coberturas lembram o que vimos nas últimas duas gerações. Isso não é necessariamente ruim — em termos de design, há momentos em que você quer que os tiroteios sejam resolvidos sem precisar dominar uma física de balas ou controles arcaicos. Ainda assim, existem escolhas de implementação que merecem reparos e elogios técnicos.
A IA é funcional, mas falha em momentos de atenção situacional: não é raro você se ver completamente flanqueado por inimigos que, curiosamente, te deixam tempo suficiente para se levantar e revidar. Alguns inimigos se comportam como estatuetas atrás de cobertura; outros, como touros em linha reta. O resultado é um equilíbrio estranho entre tensão e sensação de clipe de ação. Os confrontos funcionam por serem coerentes com o tom do jogo, não por serem desafiantes de forma justa.
A parte furtiva é onde The Old Country consegue elevar o padrão sem reinventar nada. Existe um kit básico: tossas de moeda ou garrafas para distração (mas com uma irritante inconsistência: nem todas as garrafas podem ser usadas), esconder corpos em caixas, e um destaque temporal de inimigos que facilita traçar rotas de infiltração. Enzo tem uma habilidade para marcar inimigos próximos, justificada como “instinto apurado” — um expediente narrativo que funciona na prática, embora eu tivesse preferido uma introdução mais orgânica dessa habilidade — quem imaginaria desenvolver um sexto sentido depois de anos preso numa mina de enxofre?
Algumas escolhas mecânicas, entretanto, se sentem artificiais. O sistema de durabilidade das facas é um exemplo: cada golpe com a lâmina consome uma fatia da “durabilidade”, e você precisa afiar a faca com uma pedra de amolar consumível quando ela “acabou”. Isso penaliza um estilo de jogo mais agressivo com lâminas e te empurra para estrangulamentos ou para conservar recursos. Eu raramente usei a estocada por causa disso; preferi estrangular e economizar a lâmina. Não é catástrofe, mas é uma decisão de design que interrompe a fluidez. Por outro lado, as lutas de faca — encontros one-on-one que viram quase duelos cinematográficos — são modos separados, com parry, esquiva e golpes únicos. Visualmente impactantes, essas sequências às vezes se transformam em passagens onde você sente que está apenas apertando os botões certos para acionar a próxima cutscene. O espetáculo está lá; a tensão muitas vezes, nem tanto.
O mix furtivo/letal permite transições orgânicas: um nível pode ser pensado para infiltração, mas se você for descoberto, vira um tiroteio aberto com layouts que sustentam ambos estilos. Isso dá liberdade sem sacrificar a coesão das missões. O único desconforto real são os itens “decorativos” que não flertam com a interatividade — por que algumas garrafas podem ser jogadas e outras não? Quem decidiu que um vaso é interativo e outro não? Pequenos detalhes que rompem a imersão.
Motocidade, som e física de carros
Se há algo que Hangar 13 elevou em The Old Country, é a representação sonora e tátil das máquinas da época. O jogo captura com precisão o funcionamento dos carros de 120 anos atrás: motores primitivos, correntes ruidosas, cabines abertas sem isolamento acústico. Isso não é mera estética; afeta gameplay. Dirigir por estradas esburacadas se traduz em feedback sonoro direto: o motor chiando, a suspensão reclamando, o som de gramofones desafinando quando você pula demais. Esses detalhes não são supérfluos — eles compõem a sensação de espaço, do peso e da era.
O jogo não tenta competir com Rockstar em escopo, mas na sensação de cavalgar (literalmente) pela paisagem siciliana ele acerta o tom. Há uma swagger inegável em entrar numa vila a cavalo com a lei lá fora para decidir seu destino. E aqui, as armas de época ajudam: revólveres, repeaters e diversas espingardas dão outro pacing às trocas de tiro — há menos spray e mais cuidado. Isso muda como você planeja encontros: distância, bala e recarregar são decisões que pesam.
Gosto particularmente da inclusão do evento de corrida inspirado na Targa Florio de 1906. Não é um teste longo — dura menos de sete minutos na minha experiência — mas é um dos momentos mais memoráveis do jogo. É eficiente, curto e oferece uma descarga de adrenalina que contrasta com o resto do ritmo mais contemplativo. Quem não ficou com vontade de largar a Máfia e virar piloto depois de algumas voltas? Pergunta retórica, claro.
Motor gráfico e estabilidade
Tecnologicamente, Hangar 13 mudou de motor proprietário para Unreal Engine 5. Isso poderia sugerir um salto visual massivo, mas, na prática, a diferença é mais sutil do que revolucionária. Mafia: Definitive Edition já era bonito; The Old Country mantém esse padrão com melhorias pontuais, litshot mais ricas e vegetação que responde melhor à luz. No meu tempo de jogo no PC houve poucos bugs notáveis, nenhuma queda de mapa ou checkpoints corrompidos — problemas que atormentaram versões iniciais de jogos anteriores. Ainda assim, não é perfeito: framerate teve flutuações ocasionais e pop-in leve em alguns cenários mais distantes. Nada que arruíne a experiência, mas suficiente para jogadores técnicos notarem.
Em termos de otimização, o título se comportou de maneira robusta na minha configuração. Não tive acesso antecipado às versões de console, então é prudente esperar por análises específicas para essas plataformas. Do lado gráfico, o que mais contribui para a imersão não é só poligonagem, mas a curadoria visual: mercados repletos de comida, bancas de tomate, cestos, tecidos e uma paleta de cores que remete ao sol e ao pó do campo siciliano. Sério, prepare-se: o jogo pode literalmente abrir seu apetite por comida italiana.
Design de mundo e ritmo
A decisão de Hangar 13 de manter o mundo mais contido — um pano de fundo narrativo, não um playground para colecionáveis — gera um ritmo que favorece a progressão da história. A sensação de escala é preservada sem inflar conteúdo desnecessário. Haverá quem reclame por falta de atividades secundárias profundas, mas eu vejo vantagem nisso: cada missão é desenhada para avançar a trama ou aprofundar personagens. A atmosfera é trabalhada até nas pequenas coisas: em como o vento move a grama, nas sombras nas paredes de pedra, na forma como o sol incide sobre um campo de tomate seco. Esses detalhes compõem a assinatura estética do jogo.
A aposta em narrativa curta e intensa (cerca de 13 horas, dependendo do seu estilo) evita o enjoo de expansões forçadas. Se você vier buscando 80+ horas de mundo aberto, não é esse o seu jogo. Mas se quer uma experiência cinematográfica, com ritmo controlado e sensação de que cada missão importa, aqui há muito para gostar.
Falhas que incomodam
As falhas principais que eu destacaria são: IA inconsistência, interação ambiental às vezes arbitrária (garrafas não uniformes), e algumas passagens de combate que dependem mais de script do que de habilidade do jogador. As lutas de faca, embora visualmente impactantes, por vezes se resolvem com um padrão de botão/cutscene que tira parte da tensão. E o sistema de durabilidade da faca, além de curioso, soa punidor sem um payoff claro.
Ainda assim, nenhuma dessas falhas é intransponível. Elas somam e moldam a experiência, mas não a arruinam. A balança pende para o lado positivo por causa da direção de arte, sonoplastia, performances e do design de missões que privilegia ritmo e contexto.
Levando para casa
Mafia: The Old Country é um retorno às origens com personalidade própria. Não tenta ser o maior, a mais longa ou a mais reinventiva entrada da franquia; aposta no trabalho de cena, em um senso de lugar raro nos jogos atuais e em mecânicas sólidas de stealth e combate que, embora familiar, cumprem bem o papel. A transição para Unreal Engine 5 mostra-se segura: visuais polidos, menos bugs que jogos anteriores e uma sensação geral de robustez técnica, mesmo com pequenos solavancos de performance.
Se você procura inovação radical, talvez não encontre aqui. Mas se valoriza escrita competente, atuações fortes, direção de arte e uma ambientação que respira Sicília em cada cena — além de mecânicas que privilegiam tática e ritmo sobre desafio punitivo — The Old Country é um acerto. Ele te convida a ser parte de uma família complicada, a entender códigos e lealdades, e a experimentar o gostinho de um mundo onde cavalos e carros disputam o mesmo espaço. E, sinceramente, quantas vezes um jogo te fez realmente desejar um cannoli durante uma missão? Eu já tô planejando cultivar tomates depois de algumas horas — o efeito colateral mais improvável de uma viagem à Sicília virtual.