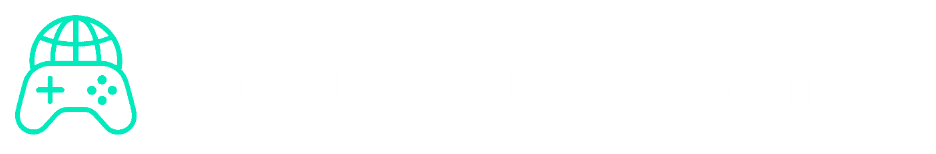Desde o primeiro segundo em que pisei num dos níveis da campanha de Battlefield 6 ficou óbvio: a intenção aqui não é entregar um modo single-player genérico pra preencher espaço. A proposta é ambiciosa e bem clara — trazer a escala, a destruição e a imprevisibilidade que definem a franquia para uma experiência solo que tenta se manter dinâmica do início ao fim. Prepare-se para trovoar em praias sob fogo pesado, escoltar tanques por cidades em ruínas, caçar inimigos em túneis colapsados e comandar drones de ataque em batalhas mais abertas. O que me pegou foi como cada missão muda o ritmo e as ferramentas disponíveis; não dá tempo de cansar.
Fearsome Foursome
A campanha se passa em 2027 e você entra como parte do Dagger 1-3, um pelotão de Marines com funções claras: Carter é o Assalto, Murphy o Engenheiro, Gecko o Recon e Lopez o Suporte. Se você jogou a beta multiplayer, tudo isso vai soar familiar — os archetypes estão lá para facilitar a leitura tática do combate. Curiosamente, Lopez não é jogável na campanha, e quando perguntei sobre isso obtive pouca resposta: “A Battlefield Studios preferiu não detalhar quando questionada sobre o motivo.” — Battlefield Studios.
Cada missão entrega um personagem diferente, mas raramente você luta sozinho. O sistema de comando de esquadrão é simples, porém funcional: você marca alvos com Gecko, pede a Murphy para abrir brechas ou consertar equipamentos, e conta com recargas e revives automáticos do suporte quando necessário. Não é um sistema tático profundo tipo um RTS, mas funciona como camada complementar: dá sensação de equipe real em campo de batalha e altera decisões no calor do combate. Em combate, as chamadas de apoio são também um feedback de gameplay — ouvir “MG derrubado!” depois de abater um artilheiro já te diz que aquela ameaça foi neutralizada sem precisar abrir o HUD. Esses pequenos detalhes vendem a dinâmica de esquadrão com eficiência.
Buckle Up and Hang On
A primeira missão que joguei foi a Operation Gladius, o terceiro estágio da narrativa. Começa com a clássica cena “invasão de praia” dentro de veículos blindados anfíbios — e a apresentação ali é de cair o queixo. Lama, fumaça e explosões obstruindo a visão; o tanque que balança com as ondas; o céu enevoado dando um tom caótico. No papel, poderia ser só mais um trecho de metralhadora na torre, mas a execução transforma aquilo num scramble tenso: rastros de destroços atrapalham a mira, companheiros pedem cobertura, e você precisa priorizar bunkers enquanto mantém mobilidade.
Depois, jogando como Murphy, fui incumbido de escoltar um tanque por uma cidade em ruínas até a prefeitura. Essa parte é o Battlefield clássico condensado numa campanha: ondas de inimigos, destruição contínua e a responsabilidade de manter o blindado operacional. Lopez aparece para reabastecer e reviver, Gecko marca ameaças longas, e Carter abre caminho com fogo direto. A sensação ali é exatamente de uma partida multiplayer comprimida em um formato narrativo intenso — prédio atrás de prédio desmoronando, oponentes surgindo de lugares imprevisíveis.
A arquitetura dos mapas incentiva pensamento tático: se o inimigo ocupa um beco ou um telhado, você tem opções para forçar a retirada — grenades, RPGs, ou rotas alternativas para flanquear. A campanha recompensa quem pensa como jogador de Battlefield: aproveitar cobertura, usar destruição a seu favor e entender que espaço controlado = poder de fogo sustentado. A sequência final da missão, empurrando para a prefeitura e defendendo pontos em estilo “sustentar captura”, replica o drama de um ponto de conflito multiplayer até fechar com uma sequência frenética.
Não é filler: cada segmento parece projetado para oferecer um tipo diferente de tensão.
A Great Script
A missão cinco é uma aula de variação de ritmo. Começa com varredura de apartamentos, movimentação tática por cômodos e uso de ferramentas de brecha manuais — sledgehammer na mão, abrindo paredes e criando novas linhas de tiro. Os disparos em corredores apertados exigem checar cada canto; meu thermal scope foi crucial para detectar inimigos PAX escondidos em ambientes pouco iluminados. Em seguida, o cenário muda para um tiroteio entre prédios, quase um shooting gallery, mas com pulso: o foco é escolher posicionamento e trocar cobertura rapidamente.
O jogo então entra no subterrâneo: túneis cheios de fumaça e poeira que testam sua consciência situacional. A transição para uma perseguição em alta velocidade dentro do metrô é um dos momentos mais cinematográficos — bem roteirizado, menos imposto como “controle total do jogador”, mais sequência orquestrada onde sua performance conta na hora de acertar tiros e manter o foco. A missão culmina com a destruição da Brooklyn Bridge — um verdadeiro Levolution em single-player — e então a ponte destroçada vira mapa final da fase, com você navegando pelos escombros para desativar transmissores.
Mesmo sendo um set-piece escrito, a passagem pela ponte não faz você se perder; a linha de objetivo é clara e as oportunidades de combate surgem naturalmente entre os destroços. Aquela sensação de ver o mundo reagir às ações (e continuar reativando situações de combate) é um dos trunfos da campanha.
Room to Roam
Acho que o destaque técnico veio na missão oito, que abriu espaço para um estilo de jogo mais livre. Jogando como Gecko, tive controle sobre um drone bomber e um veículo que eu podia entrar e sair quando quisesse — pela primeira vez senti que podia ditar o ritmo, tipo “posso explorar, preparar o campo e depois decidir o ataque”. A missão começa com a tarefa de derrubar sites SAM, e a impressão é que você pode escolher ordem e abordagem — furtiva, agressiva, usar drone para softening — embora meu tempo de preview tenha limitado testes mais profundos.
O drone introduz uma camada estratégica: ele oferece visão aérea e capacidade de bombardeio, mas é frágil; quando destruído, entra em cooldown. Isso força decisões sobre quando arriscar expô-lo para limpar alvos ou segurá-lo para a fase final. A sensação de guiar mísseis em primeira pessoa contra helicópteros e blindados é visceral — é mecânica que dá prazer imediato e merece mais momentos próprios no jogo. A missão escala de mirar SAMs para guiar rockets com o sistema Switchblade, e termina num grande combate numa represa, com um “chefe” em forma de helicóptero que exige coordenação entre drone, veículo e cobertura.
Técnica de combate, inteligência artificial e feedback visual funcionam bem aqui. Os inimigos reagem a sinalizações do seu esquadrão, mudam posições, e o mapa semi-aberto permite abordagens variadas. Não é mundo aberto infinito, mas oferece a liberdade suficiente pra experimentar sem perder o senso de progressão.
Detalhes técnicos que importam
Se você, como eu, presta atenção em performance e sensação, alguns pontos merecem destaque. A destruição não é apenas visual — ela muda caminhos, cria novas linhas de fogo e, em alguns momentos, fecha rotas, direcionando combate de maneiras orgânicas. A resposta das armas e o recuo parecem calibrados para manter uma sensação pesada e realista sem sacrificar fluidez. Os efeitos de fumaça e partículas ajudam a esconder ameaças e intensificar caos, o que exige bom uso do áudio — a mixagem direcional é útil pra localizar tiros mesmo quando a tela está coberta de poeira.
O esquadrão, embora funcional, não substitui um jogador competente; eles dão suporte e lidam com ameaças óbvias, mas você ainda precisa priorizar alvos e gerenciar recursos. Isso é bom — evita que a AI faça tudo por você e mantém a sensação de desafio.
E as mecânicas de drone e Switchblade? Técnicas simples, mas com impacto estratégico alto. Permitir que o jogador mire mísseis em primeira pessoa adiciona um mini-game satisfatório dentro de uma missão maior — eles transformam o campo de batalha em camadas: chão, ar e suporte remoto.
Algumas ressalvas
Nem tudo é perfeito. Momentos muito roteirizados reduzem a sensação de controle — especialmente nas cenas de perseguição onde a câmera e os eventos ditam a ação. Pra quem prefere jogos onde cada interação é jogador-driven, essas sequências podem parecer um pouco “filme”. Também senti falta de um sistema mais profundo de comando de squad, tipo ordens táticas complexas, que enriqueceriam as abordagens em missões semi-abertas.
A questão do Lopez não-jogável também abre espaço pra curiosidade narrativa: será que existe uma razão de design por trás disso, ou é um twist guardado pra surpresa? Perguntas como essa mantêm o interesse pela campanha além do gameplay em si.
Vale a pena?
Depois de jogar essas missões, a conclusão técnica é clara: Battlefield 6 não tratou a campanha como apêndice. Ao invés disso, traz muitos elementos que fazem o multiplayer memorável — destruição, firefights imprevisíveis, dinâmica de esquadrão — e os traduz para um formato solo com variedade e intensidade. Do desembarque anfíbio à explosão da ponte, passando por varreduras táticas e combates em represa com helicóptero chefe, a campanha mantém o ritmo sem se repetir.
Quer saber qual classe jogar primeiro? Vai de gosto, mas a campanha parece feita pra te ensinar a usar cada função de forma prática — e a sensação de desintegrar um ponto inimigo com assistência do drone é tão boa quanto derrubar um helicóptero com mísseis em multiplayer. Então, se a versão final manter o ritmo e polir as partes mais roteirizadas, Battlefield 6 pode finalmente entregar uma campanha em escala e intensidade digna da série — algo que muitos fãs não viam desde os tempos de Bad Company.