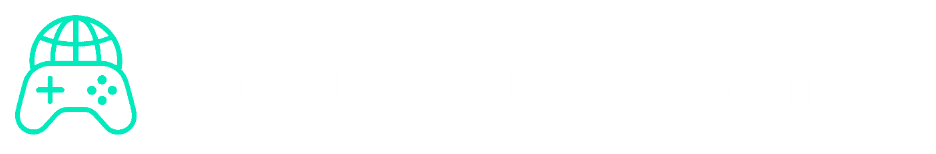No começo: uma pequena arqueologia do desenvolvimento. Indiana Jones and the Great Circle chegou como o tipo de jogo que faz você revisitar expectativas sobre adaptação de franquias clássicas: orçamento AAA, pedigree do estúdio (MachineGames), e o peso de um protagonista icônico. No painel do Develop em Brighton, Jens Andersson (Design Director) e Pete Ward (Audio Director) abriram o backstage: as decisões legais e técnicas sobre música, as mudanças radicais perto do fim, o suor para recriar um mundo dos anos 1930 com fidelidade antropológica e — claro — como o chicote virou uma ferramenta de design que exigiu reescrita de sistemas inteiros. Como alguém que gosta de dissecar performance, animação e mecânicas, fiquei atento aos detalhes que normalmente passam batido nas matérias de currículo. E vocês acham que um jogo desses aparece pronto, prontinho, desde o primeiro protótipo?
Licenciamento musical e decisões de áudio
Uma das primeiras revelações interessantes do painel foi: a presença do tema de John Williams não era automática. Não é porque o estúdio obteve a licença geral da Lucasfilm que todo material sonoro clássico estava liberado. O processo foi granular, cheio de limitações e condições — e isso impactou decisões técnicas cruciais. Pete Ward explicou a solução escolhida: regravar e re-orquestrar os trechos necessários para poder controlar a copyright mecânica das gravações. Isso não é detalhe trivial; mexe diretamente com pipeline, custo e calendários de produção.
“Para a música, eu não sei exatamente como o framework legal funciona. Do meu ponto de vista, eu só sabia que precisávamos usar o tema e também o tema da Marion, além da música da seção do Peru, porque também é uma composição original do John Williams.” — Pete Ward
A distinção entre direitos de composição e direitos de gravação (mechanical copyright) determina a diretiva: usar as composições é uma coisa; usar as gravações originais dos filmes é outra. Gravar uma nova orquestração permite que Disney/estúdio detenha a nova gravação e a gerencie livremente, mas não exclui cláusulas que limitam como e onde certos temas podem ser usados. Pete traduziu isso em prática: o tema principal (The Raiders March) teve permissão ampla, mas outras peças receberam uso limitado — por exemplo, a música do Peru foi autorizada apenas para uma ocorrência, Marion’s Theme algumas poucas vezes. Tudo precisava passar por aprovação da Lucasfilm Games.
“E nós não queríamos usar as gravações originais porque haveria um problema de copyright mecânico. Por isso regravamos; re-orquestramos, gravamos para que — quando eu digo ‘nós’ não quero dizer a MachineGames, quero dizer a Disney — possuíssemos o copyright mecânico dessas novas gravações.” — Pete Ward
Traduzindo para prática de produção: gravar orquestras tem custo elevado, logística complexa (estúdios, maestros, músicos, arranjos), e exige composição antecipada. Esse é um dos pontos onde o fluxo habitual de desenvolvimento de jogos AAA esbarra: muitos elementos sonoros precisam ser finalizados muito antes do game ter seus sistemas e timings 100% fechados. Pete resumiu bem:
“Quando você tem que se comprometer com sessões de gravação e compor bem antes de saber quanto realmente vai precisar, isso fica complicado.” — Pete Ward
E aí entra o tradeoff criativo: usar o tema de forma impactante e não como efeito sonoro repetitivo. Pete e Lucasfilm tiveram discussões sobre onde o tema deveria aparecer para preservar sua força dramática. O objetivo foi emular o uso cinematográfico — guardar a orquestração completa para momentos que realmente importam, como a sequência de créditos — e usar citações temáticas de forma pontual no gameplay. É a diferença entre trilha melancólica de fundo e assinatura emocional que motiva o jogador.
“Nós tivemos discussões cuidadosas com a Lucasfilm Games sobre onde usar o tema primeiro e como ele deveria ser usado… Não queríamos um jogo onde toda vez que você socasse alguém, você recebesse esse tema — as pessoas se cansariam.” — Pete Ward
Além da música, há exemplos práticos de licenciamento que afetaram o conteúdo: trechos de falas da Marion (Karen Allen) usados na fase inicial exigiram licenciamento específico. Não dava para simplesmente extrair e colocar no jogo. Legalidade e autenticidade se encontraram e, sempre que possível, a solução técnica foi gravar novo material, re-orquestrar e controlar.
Iterações tardias e decisões de design que definiram o jogo
Aqui entramos no ponto que quase todo dev AAA conhece: o jogo “vira” muito tarde. MachineGames passou por isso — quase cinco anos de projeto, e as decisões mais visíveis foram frequentemente tomadas nos últimos meses. Jens falou sobre mudanças que, à primeira vista, pareciam pequenas — uma simples alteração de UI, um ajuste de sistema — mas que tiveram impacto gigante na experiência do jogador. Isso é o cerne da produção iterativa: decisões pequenas têm efeito cascata.
“É difícil lembrar porque muitas coisas mudam o tempo todo. Uma coisa que lembro é que, quatro meses antes do lançamento, mudamos como configuramos o sistema de orientação no jogo, como os marcadores na tela… Tivemos que refazer tudo.” — Jens Andersson
A decisão pelo que veio a ser chamado de modo “lowered” para exibir os marcadores de navegação é um bom exemplo de design exploratório que encontra equilíbrio entre orientação e descoberta. Em muitos jogos, marcadores gigantes quebram imersão — o jogador só segue setas; a exploração morre — mas sem orientação, a experiência pode ficar frustrante ou confusa. MachineGames implementou um sistema opt-in: se você estiver no modo “lowered”, o mundo te ajuda com marcadores; fora dele, o jogo exige mais atenção e leitura ambiental. O resultado foi positivo porque manteve a liberdade do jogador sem sacrificar clareza.
“Se você andar no ‘lowered’ mode, você vê marcadores no mundo. E isso foi uma boa balança onde era ainda bem opt-in para o jogador.” — Jens Andersson
Outra mudança tardia citada foi o redesign do sistema de stealth UI e de como as informações eram apresentadas durante o combate. Seis meses antes do ship, havia uma versão centralizada em hubs que lembrava visualmente sistemas de outros jogos contemporâneos, mas que não comunicava bem os estados de combate e alerta. A decisão foi reverter para um sistema mais clássico, o que exigiu retrabalho de UX e sincronização com áudio e animações.
Essas decisões mostram que, mesmo quando o projeto parece perto do fim, a equipe precisa manter espaço para testes e coragem para pivotar. Existe risco — e frustração emocional — porque todo mundo investiu tempo e orgulho nas implementações antigas. Jens foi claro:
“No ponto em que a pressão está alta, fica emocional. Você investiu muito tempo, e precisa ser convincente para o time: isso vai ficar assim no jogo. Um mês depois pode ser que não.” — Jens Andersson
Isso leva a uma pergunta que eu sempre faço quando vejo processos assim: qual é o custo real dessas iterações tardias em termos de saúde da equipe, QA, e estabilidade técnica? A resposta não vem em números, mas em relatos qualitativos: as equipes de áudio e design foram consultadas frequentemente, Jerk Gustafsson (diretor de jogo) pedia avaliação das mudanças, e as decisões maiores nunca foram simplesmente impostas sem ouvir consequências técnicas. Pete comentou que frequentemente era chamado para avaliar impactos sonoros de mudanças de design, o que deu à sua equipe oportunidade de planificar custos e negociar alternativas.
“Jerk muitas vezes vinha até meu escritório e me perguntava quais seriam as consequências de áudio de uma mudança… Às vezes era fácil, às vezes era muito difícil e caro. Mas eu sentia que éramos ouvidos.” — Pete Ward
Essa dinâmica positiva — ouvir especialistas antes de tomar decisões definitivas — é muitas vezes diferencial entre entregas medianas e títulos aclamados. Não elimina stress, mas reduz surpresas técnicas de última hora.
Autenticidade: referência, locações e o cuidado com o período
Se tem algo que brilha em Great Circle é a obsessão por autenticidade visual e sensorial. Jens contou histórias que parecem geekismos de produção: designers viajando para o Vaticano, buscando fotos antigas de Sukhothai, consultando referências da época para remover elementos modernos que alterariam a sensação histórica. O objetivo era evitar um “tema de parque” — nada de caminhos turísticos impecavelmente limpos quando, em 1937, um local poderia ser caótico, sujo, em obras.
“Eu perguntei: ‘e se mudarmos isso aqui para que você chegue por ali?’ E o designer respondeu: ‘então não teria a mesma aparência que a realidade’. E eles puxaram as fotos de referência e parecia idêntico.” — Jens Andersson
A precisão espacial não é só vaidade; ela sustenta mecânicas e expectativas do jogador. Quando um espaço é reconhecível e coerente com referências reais, a suspensão de descrença funciona melhor. Pessoalmente, gosto quando ambientes não são meramente “bonitos”, mas informam jogabilidade — plataformas posicionadas de forma racional, encostas que fazem sentido para escalada, ruelinhas com cobertura plausível para stealth. MachineGames empilhou camadas de referência: fotos históricas, reconstruções arquitetônicas, e depois uma camada de fiction lógica (ex.: parte de Sukhothai inundada por narrativa).
“Eles cavaram fotos antigas de quando começaram a escavar Sukhothai para entender como era antes de virar um lugar turístico limpo.” — Jens Andersson
E atenção: isto não foi só visual. A recriação sonora buscou o mesmo nível de autenticidade. O processo de captação de efeitos práticos incluiu artesãos locais — o cara do Witchcraft Whips no norte da Suécia foi contratado para criar o som do chicote que ouvimos no jogo. Tem coisa mais legal do que um estúdio de som contratando um campeão de competições de chicote para fazer gravações controladas em diferentes contextos? Não tem.
“Ele constrói chicotes. Ele venceu competições. Ele foi incrível em reproduzir o estalo em diferentes locais e métodos.” — Pete Ward
O cuidado com o som ambiente e a camada de efeitos contribui para a imersão de época: reverberações em catedrais, som de multidões de mercados de 1930, texturas sonoras de madeiras e cordas antigas. Isso faz uma grande diferença no realismo percebido quando comparado a uma trilha só funcional.
O chicote: animação, física, e design mecânico
Se tem um elemento que mereceu atenção editorial e técnica extremos, foi o chicote. Como designer que joga shooters e títulos de ação em primeira pessoa, pergunto: como você transforma um objeto esguio, com comportamento físico complexo, em uma ferramenta interessante e confiável para gameplay? Não é trivial. Chicotes são não-lineares, têm comportamento elástico, e geram clipping e problemas de colisão fáceis de quebrar a ilusão.
Jens foi direto: levou anos. Parte disso foi por causa de mudanças no sistema de inventário (em versões antigas, o chicote era algo que você tinha que equipar; no produto final ele tem botão reservado), parte foi por causa da dificuldade inerente de criar oportunidades naturais de uso durante combate. Eles tentaram puzzles, uso em manipulação de objetos, mas o momento que unificou o design foi usar o chicote como ferramenta de entrada para o combate — uma forma de desarmar inimigos e puxá-los para um estado que a equipe chama de ‘clinch’.
“Nós tentamos usar o chicote em puzzles. Mas começou a fazer sentido quando o usamos como ponto de entrada ao combate. Você pode usá-lo para desarmar alguém ou puxá-lo para um ‘clinch’.” — Jens Andersson
Do ponto de vista técnico, isso significa sincronizar animação procedural (o chicote em si) com animações de personagem (reação do inimigo), com áudio (estalo, impacto, som de recuperação) e com sistemas de gameplay (estado de inimigo, fenestração de hitboxes). Se qualquer uma dessas camadas falha, o efeito decepciona: clipping do chicote passando pelo corpo, inimigo não reagindo, som desalinhado. Para evitar isso, a equipe construiu um catálogo de animações reativas e usou o chicote mais como gatilho de estado do que como um sistema puramente físico que resolve tudo por si só.
“A ideia final foi: use o chicote para desarmar, puxar, iniciar uma sequência de golpes — e não tentar que o chicote faça tudo.” — Jens Andersson
Há também decisões de balanceamento: limitar potencial de abuso (não deixar o chicote matar inimigos de forma trivial), criar janelas de oportunidade e implementar recuperação. Em termos de controles, reservar um botão reduziu overhead de fricção e tornou a ferramenta acessível durante o combate, sem exigir menus ou mudanças de loadout mid-fight.
Performance, animação e clipping — as dores invisíveis
Agora, falando como alguém que observa performance, quero comentar a parte técnica que frequentemente fica nas entrelinhas: animações faciais, sincronização labial, LODs de personagens, e clipping são áreas onde um jogo com cenas cinematográficas e combate em primeira pessoa precisa ser impecável. Recriar a semelhança de Harrison Ford (likeness) e entregar uma performance convincente exigiu dividir responsabilidades: Harrison não fez o VO; Troy Baker cuidou da performance, e a equipe trabalhou para casar visual e sonoro.
O movimento dos olhos, micro-expressões, e o comportamento corporal em terceira pessoa nas cutscenes — tudo isso precisa casar com a expectativa do público sobre o que é “Harrison Ford”. A solução técnica foi modelar uma versão visual do ator (licenciada) e mapear uma performance de voz/actuação que capture a entonação e timing. Troy Baker foi a escolha que se mostrou certa para a performance vocal.
“Muito cedo, quando Troy Baker entrou, ficou claro que era o caminho. Ele se esforçou demais para criar a versão dele do Indiana de Harrison Ford.” — Jens Andersson
Mas acredito que é fundamental dissociar “ter a cara” de um ator e “ter a atuação”. A atuação é o que cria empatia; a semelhança é o que aciona nostalgia. MachineGames acertou ao investir pesado em ambas as frentes. E quando a legitimidade vem do próprio Harrison Ford — ele subiu ao palco no Game Awards e elogiou o trabalho — o selo de aprovação adiciona legitimidade cultural que nenhum algoritmo sintetiza.
“Quando o Harrison Ford apareceu no Game Awards e elogiou, foi um momento enorme pra gente.” — Jens Andersson
Localização, VO e o custo da produção orquestral
Voltando à questão prática: altos custos e cronogramas de gravação. Orquestras e sessões de VO têm efeitos cascata nos pipelines de localização. Você precisa do script fechado para gravar o VO principal; depois disso, todas as versões localizadas dependem disso. A equipe sabia disso e teve que planejar antecipadamente. Isso contrasta com sistemas que permitem alterar linhas de diálogo dinamicamente sem gravação — quando há atores e grandes orquestras envolvidos, você perde flexibilidade.
“Alguns grandes blocos de áudio são grandes navios-tanque: demoram a virar. Gravar música orquestral e VO requer que você se comprometa cedo.” — Pete Ward
Em termos de qualidade, a escolha fez diferença: trilha rica e VO coeso elevaram a experiência cinematográfica. Para jogadores que valorizam som e imersão, esse tipo de investimento se paga — especialmente em títulos focados em narrativa e sensação de época.
Canon, narrativa e o lugar do jogo no cânone Indiana Jones
Pergunta eterna: o jogo é “canon”? MachineGames fez questão de dialogar com a Lucasfilm Games e construir uma experiência que parecesse autêntica e “na mesma família” dos filmes. Mas Jens foi pragmático sobre o termo “canon” — ele reconhece que a palavra vem com bagagens e limites, e que IPs mudam ao longo do tempo. O foco real foi criar algo que se integrasse de forma crível no universo Indiana Jones sem disputar com as versões cinematográficas.
“É importante criar uma experiência autêntica e trabalhamos diretamente com a Lucasfilm Games nisso. A palavra ‘canon’ tem muito peso, então basicamente não importa — sabemos que o IP pode ser alterado no futuro. O que importa é que estendemos o mundo de forma crível.” — Jens Andersson
No design narrativo, o jogo foi intencionalmente situado entre filmes clássicos para capturar a versão prime de Indiana (o Ford de meia-idade, entre Raiders e Last Crusade). Isso guiou tom, voz, e decisions de design visual. E quando o final do jogo abre ganchos (inclusive um “secret ending”), a equipe deixou espaço para possibilidades sem prometer continuação.
“Existem tantas histórias no jogo que você pode seguir qualquer caminho. Quanto a futuros projetos: sem comentários.” — Jens Andersson
Quem joga e vive o hobby de teorizar vai querer uma continuação? Claro. Será que MachineGames quer (e terá licença)? Também há essa pergunta: se as vendas e a recepção justificarem, qual estúdio não quer mais do mesmo universo com ajustes e melhorias? A responsabilidade criativa, porém, implica manter coerência estética e narrativa.
DLC, extensão de conteúdo e o que vem por aí
O DLC anunciado se passa em Roma, durante os eventos do jogo principal — não é uma continuação direta das linhas deixadas em aberto no final do jogo. Jens esclareceu que é um conteúdo auto-contido, com foco em gameplay e narrativa complementar. Isso tem implicações importantes: a DLC pode explorar temáticas e mecânicas sem ter que resolver as pontas de grandes cliffhangers.
“É auto-contido. Se passa em Roma, durante os eventos da história principal.” — Jens Andersson
Do ponto de vista de design live-service, isto é interessante: DLCs entrelaçadas no tempo com o main game permitem enriquecer o mundo sem amarrar futuras produções a resoluções narrativas específicas. Também dá espaço para testar novas mecânicas e ver o retorno dos jogadores antes de um possível segundo título.
Reflexões técnicas finais e o que aprendi como jogador e analista
O que mais me marcou foram dois pontos práticos que você, jogador de shooters e fã de performance como eu, deveria notar:
– Integração audiovisual pensada em camadas: regravação orquestral + efeitos práticos (como o som do chicote) + VO com ator de substituição bem escolhido = sensação de coesão. Não é mágica, é engenharia e artesanato.
– Iteração tardia como padrão: MachineGames admitiu a dor de fazer decisões críticas no último ano. Isso exige lideranças capazes de dizer “agora vamos alterar” com argumentos baseados em dados e testes. A habilidade de pedir avaliações técnicas (o diretor indo ao áudio para perguntar consequências) fez diferença para evitar retrabalhos caros.
E para abrir a discussão com vocês (quem mais fica pensando em pipelines quando curte um jogo?): como você avalia a relação entre autenticidade histórica e diversão? Um cenário fiel mas rígido pode reduzir diversão, então onde está o ponto ótimo entre recriação fiel e necessidade de “jogo”? Essa é uma pergunta que desenvolvedores enfrentam constantemente.
A regravação orquestral não foi apenas sobre direitos — foi uma decisão técnica e artística que afetou todo o ciclo de produção. Alterar um sistema de orientação no fim do desenvolvimento pode parecer pequeno, mas altera o comportamento do jogador e o tom inteiro do jogo.
No fim, Indiana Jones and the Great Circle funciona porque tomou decisões assertivas quando precisou e manteve escopo e rigor nas áreas que realmente importavam para a experiência: trilha, som ambiente, mecânica do chicote, e fidelidade de cenário. A recepção crítica mostra que a combinação entre risco criativo e disciplina de produção pode dar um resultado que agrada tanto fãs quanto críticos. Ainda assim, o processo permaneceu humano: cheio de dúvidas, mudanças estressantes, e muita discussão até convencer o time. Isso é desenvolvimento AAA na prática — um jogo que, como todo bom artefato de época, parece ter sido esculpido no calor do último minuto, mas com base em meses e anos de pesquisa e refinamento.
E agora? Se você terminou o jogo, começou a caçar easter eggs e está curioso sobre os caminhos que sobraram pendentes, o que mais você gostaria que a próxima aventura resolvesse ou explorasse? Quer mais Lobos de gelo do que catedrais em Roma? Mais uso do chicote em puzzles do que em combate? Pense nisso quando voltar ao mapa: imagine o que um patch, um DLC ou um hipotético sequel poderia expandir. Afinal, se tem algo que Indiana Jones nos ensinou nos filmes, é que a aventura nunca está realmente encerrada — só esperando por outra expedição.