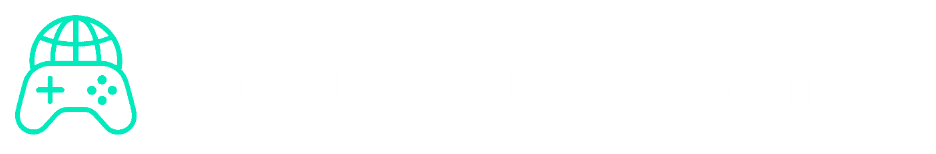Sou fã declarado das grandes produções first-party da PlayStation — aquelas aventuras cinematográficas que a gente senta no sofá esperando sentir um blockbuster no controle. Nos últimos anos, porém, esse cardápio premium começou a ficar previsível: não é só o estilo cinematográfico e a câmera terceira pessoa que se repetem, é a fixação temática. Quando fecho um jogo novo dos estúdios da Sony, frequentemente sai a sensação de que acabei de ver a mesma peça reencenada com figurinos diferentes. E isso, como jogador que valoriza variedade de tom e design, cansa.
Um padrão que se repete — gameplay incrível, narrativa reciclada
A questão não é técnica: a maioria desses jogos é impecavelmente construída. Desde o combate até o design de mundo, as equipes entregam experiência AAA com polimento raro. Mas existe uma tendência narrativa que me incomoda: uma obsessão por arcos de vingança e pelo luto familiar. Sucker Punch com Ghost of Yotei é um exemplo recente. Tecnicamente, o jogo evoluiu em quase tudo — combate mais fluido, exploração que recompensa a curiosidade e um level design que convida a improvisar táticas. Ainda assim, enquanto eu me divertia decapitando inimigos e explorando santuários, o fio narrativo me soou conhecidíssimo: Atsu em busca de vingança pela morte dos pais, caçando cada um dos “Yotei Six” através de um Japão do século XVII encharcado de sangue. Não pareceu só inspirado por outros jogos; soou como um déjà vu narrativo.
Compare Ghost of Yotei com Assassin’s Creed Shadows, que saiu no mesmo ano. Ambos usam a engrenagem de vingança + meditação sobre perda familiar. E antes disso tivemos The Last of Us Part II, que praticamente virou o manual moderno para esse tipo de drama: Ellie consumida pela raiva após a morte de uma figura paterna. Não preciso listar todos os exemplos? Mas eu vou: God of War (2018) e Ragnarok (2022), Spider-Man (Insomniac) e suas sequências, Returnal com seu loop psicológico e até Death Stranding 2, que, embora não seja uma produção first-party estrita, entrega uma orgia de angústia parental. Cada um desses títulos é excelente no seu universo, mas juntos eles soam como variações sobre o mesmo tema.
O problema não é a maturidade temática — é a repetição dessas mesmas paletas emocionais.
Pra quem joga shooters competitivos, battle royales e FPSs de ação, como eu, isso fica mais evidente: são jogos que valorizam a mecânica e também contam histórias, e é frustrante ver a narrativa se colar a um único nó emocional quando havia diversidade antes. Nos tempos do PS2 e PS3, a diversidade tonal era enorme: Uncharted era pulp e aventura com set pieces memoráveis; LittleBigPlanet era criatividade e comunidade visceral; Resistance misturava guerra e sci-fi com uma pegada única; Shadow of the Colossus trouxe luto, sim, mas fez isso de forma minimalista e experimental, algo raro e incisivo. Cada lançamento era quase uma experiência experimental diferente. Hoje, sinto falta desse senso de risco narrativo.
Por que isso importa para a experiência do jogador
Histórias sobre perda e vingança funcionam quando servem ao tema e quando renovam a linguagem do storytelling. O que me incomoda é a falta de variação tonal: se todos os jogos de alto orçamento de um ecossistema seguem o mesmo espectro emocional, o consumidor passa a encarar essas produções como variações de uma mesma receita — alto investimento técnico, emoção sombria, resolução trágica. Não é que esses temas não tenham lugar nos videogames — longe disso —, mas se toda narrativa adulta recorre ao mesmo músculo dramático, o impacto diminui.
Do ponto de vista de design, a repetição temática também empurra decisões de mecânica e pacing de forma previsível. Quando a narrativa foca em vingança e trauma, o gameplay tende a acentuar conflito, combate prolongado e secções de stealth dramático. Isso é ótimo em jogos que querem isso, mas quando toda a linha de lançamentos se move no mesmo sentido, perde-se espaço para experimentos que conjugam mecânicas surpreendentes com tons diferentes — algo que Team Asobi demonstrou com Astro Bot, que é pura alegria e cor em um mar de melancolia.
Será que a indústria não deveria reservar uma fatia maior do orçamento para experimentar tom e forma — e não apenas reverenciar o espetáculo sombrio?
Também vale lembrar o contexto: muitos desses jogos foram concebidos ou escritos durante 2020–2021, quando o mundo estava sob o impacto direto da pandemia. Temas de perda, trauma coletivo e isolamento estavam na ordem do dia — é natural que autores reflitam isso em suas obras. Então faz sentido que um ciclo de jogos passe por essa lente; ela é legítima. A dúvida é se, agora que o planeta está gradualmente voltando a alguma normalidade, os estúdios vão diversificar as narrativas ou continuar reciclando o repertório emocional daquele período.
Penso sobre isso cada vez que vejo anúncios futuros. Insomniac com Wolverine: esperamos violência gráfica e uma pegada adulta, mas será que o enredo vai desembocar na velha trilha da redenção pela violência? Logan (filme) já bateu nessa tecla, com um tom que casa bem com o personagem, mas repetir esse caminho em game depois de tantos dramas similares soa preguiçoso. Por outro lado, projetos como Intergalactic: The Heretic Prophet, da Naughty Dog, mostram uma promessa de leveza que parece quase revolucionária vindo do estúdio que alimentou o ciclo atual. O trailer trouxe um tom mais brincalhão e aventureiro — lembra Uncharted em espírito. Será que eles revisitam esse vocabulário leve ou vão misturar sci-fi com a velha sensação de perda? Housemarque, com Saros, também traz esperança: gameplay sólido, ritmo intenso — há espaço para contar histórias que não sejam necessariamente sobre angústia familiar.
Não dá pra ignorar que muitos desses estúdios estão tentando explorar novas regiões narrativas. Mas fica a pergunta: quando um estúdio reconhecido por dramas pesados decide mudar de tom, será recebido como evolução ou como perda da “maturidade” esperada? Existe essa pressão de marca: PlayStation studios são reconhecidos por histórias profundas e “sérias”. Essa associação pode tolher experimentos mais leves, por medo de críticas que confundem leveza com superficialidade.
E aí eu me pergunto: por que estamos aceitando um padrão como se fosse inevitável? Por que a indústria não dá mais espaço para títulos que celebrem alegria, humor ou exploração pura com a mesma confiança orçamentária? Ainda que tenhamos títulos pontuais (Astro Bot, Ratchet & Clank em diferentes épocas), eles parecem exceções, não a regra.
Voltando ao aspecto técnico: quando um estúdio decide repetir os mesmos temas, isso também reflete em estética, trilha, animação facial e direcionamento de performance. A cinematografia dark, a paleta dessaturada, as performances com closes longos — tudo vira um template de produção. E quando você aplica o mesmo template em narrativas distintas, acaba borrando a identidade que tornava cada projeto único. Quem ganha com isso? O marketing, talvez. A sensação de “seriedade” vende. Mas artisticamente, é limitante.
Para jogadores que, como eu, vêm de uma longa convivência com gêneros diversos, o ideal é equilibrar. Mantém-se o drama pesado quando ele faz sentido e se busca direção diferente quando o objetivo é experimentar. Shadow of the Colossus prova que o luto pode ser tratado de forma contemplativa e singela, sem explodir em cutscenes. Uncharted mostra que aventura e personagens carismáticos vendem tanto quanto tragédia. Porque, no fim das contas, é sobre variedade de linguagem e coragem criativa.
Simon Cardy é editor sênior da IGN que costuma ser visto explorando jogos mundo-aberto, assistindo cinema coreano ou lamentando o estado do Tottenham Hotspur e do New York Jets.
O que espero ver nos próximos anos? Que os estúdios olhem para o passado mais amplo da PlayStation — não só para The Last of Us ou God of War, mas para os momentos em que a marca ousou em tonalidades diversas. Que projetos como Intergalactic encontrem espaço para trazer leveza sem que isso seja tratado como recuo. Que a indústria continue a contar histórias maduras, claro, mas sem transformar a vingança familiar em um carimbo obrigatório de “jogo sério”. A estética cinematográfica pode conviver com o humor, a aventura pulp, a experimentação minimalista e até com jogos que simplesmente queiram fazer você sorrir por quatro horas.
Pergunto de novo: é pedir demais querer diversidade narrativa num catálogo que, por si só, representa a cara de toda uma geração de consoles? Não. E, tecnicamente, também não é difícil — o que falta é vontade política dentro das produtoras e um apetite maior por risco editorial. O público receptor também tem parcela de responsabilidade: premiar e consumir projetos variados envia sinais claros ao mercado.
Se eres como eu, que gosta de analisar em detalhe desempenho, gráficos e mecânicas, você também deve sentir que repetir histórias empobrece o ecossistema criativo. Quero ver estúdios grandes arriscando. Quero ver jogos first-party que tragam inovação de tom tão frequentemente quanto trazem inovações técnicas. Porque, no final das contas, a soma de grandes mecânicas com narrativas diversas é o que transforma um catálogo em algo memorável — não apenas por um tema, mas por uma constelação de experiências realmente distintas.